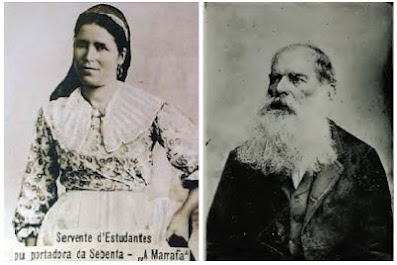Quis saber o que se passa hoje em dia com a Venda Pasta.
Telefonei para Coimbra e falei com alguns fitados e cartolados recentes: – Venda da Pasta? Verbena? Que é isso? Nunca
ouvi falar…
Quis saber o que se passa hoje em dia com a Venda Pasta.
Telefonei para Coimbra e falei com alguns fitados e cartolados recentes: – Venda da Pasta? Verbena? Que é isso? Nunca
ouvi falar…
Fico preocupado! Será que a Venda da Pasta já foi vendida?
Será que a culpa é do maldito memorando e andam a cortar nas gorduras da
Queima?
Desconfiado, vou até à internet: Depois de desbravar caminho
entre as semanas académicas (que se vão acotovelando umas às outras), um cartaz da Queima (onde
uns quantos puxam pela corda uma torre que não sei se está a cair se a erguer-se) e o "verdadeiro cartaz" (aquele que faz correr a malta, com Daniela
Mercury, Quim Barreiros, Xutos & Pontapés …), lá encontro, por fim, o tão
desejado anúncio da Venda da Pasta, seguida da Verbena – Será a 13 de Maio,
terça-feira, e o dinheiro angariado destina-se à Casa de Infância Elísio de Moura.
Afinal sempre há. A malta é que lhe deve ligar pouco… Vamos
lá à história desde o princípio.
A Venda da Pasta é mais uma das iniciativas do famoso curso
médico de 1931/32 (ano da formatura), de que fazia parte o não menos célebre Henrique Pereira da Mota (mais conhecido por “Pantaleão”), a quem se deve a ideia de tão meritória acção.
A sua origem é referida por vários autores. Mas pareceu-me
interessante trazer aqui o testemunho da viúva do grande “Pantaleão” que, em
1997, editou um pequeno livro [ 1 ] de homenagem à memória do seu falecido
marido:
«O asilo da Infância
Desvalida que fora adoptado pelo Professor Doutor Elísio de Moura estava em
dificuldades.
«Apesar da abnegação do Professor que a ele consagrava todos os seus haveres, o
crescente número de órfãs fazia com que a administração fosse cheia de espinhos.
«Aproximava-se a “Queima das fitas” e então a ideia luminosa surgiu.
Pela mão dos quintanistas, as gentis pequeninas asiladas seguiam pela Baixa
vendendo pastazinhas com fitas das cores das várias faculdades.
«Radiante, mais feliz do que elas – que gozavam o prazer da liberdade – lá ia o
“Pantaleão” fazendo os impossíveis para angariar o máximo para a meritória obra
de amor e benemerência que tantas meninas acarinhou e tornou aptas para serem
úteis e felizes.»
Para além da grande admiração e carinho que a academia e a
cidade sempre devotaram ao Professor Elísio de Moura, há um aspecto que será
menos conhecido e que admito que tenha ajudado esta ligação entre a academia e
uma obra assistencial específica. É que, segundo o Diário de Coimbra [ 2 ], a
Casa da Infância Dr. Elísio de Moura (anteriormente Asilo da Infância
Desvalida), «teve a sua origem na
“Sociedade de Beneficência Protectora da Infância Desvalida”, fundada em 9 de
Julho de 1835 pela Reitoria da Universidade de Coimbra, cabendo a presidência a
um professor universitário. Tal cargo seria exercido por Elísio de Moura a
partir de 1922». E, segundo se depreende das palavras acima de Maria José
Carmona da Mota, entre 1922 e 1932, o asilo terá sido mesmo adoptado por Elísio
de Moura.
Nos anos 50 e 60 a Venda da Pasta era o prato forte do Dia
do Quintanista, uma segunda-feira calma, estrategicamente entalada entre a
garraiada de domingo e o cortejo de terça, dia que os quintanistas aproveitavam
para usar as suas fitas uma última vez, já que no dia seguinte desfilariam de
cartola e só poderiam voltar a usá-las no dia da formatura. [ 3 ]
E, pela manhã, lá iam os quintanistas buscar as “meninas do
Dr. Elísio de Moura” para vender as pastas. Para as miúdas – «princesas por um dia», nas palavras do
filho do “Pantaleão” [ 4 ] – era uma jornada inesquecível mas, também,
fatigante. Sempre aos pares e acompanhadas por um quintanista (às vezes por um casalinho
de quintanistas), percorriam as ruas da cidade, almoçavam num restaurante,
lanchavam numa pastelaria e, ao final da tarde, ainda era vê-las na Verbena do
Jardim Botânico [ 5 ], ora gingando ao som da música do baile ora brincando ou dormindo
já nos braços dos quintanistas a quem tinham sido confiadas.
Veio a crise académica de 69, o luto académico e o consequente
cancelamento de todo o programa da Queima das Fitas. Foi então que o Professor
Elísio de Moura foi ter com a Comissão da Queima (ou da Verbena, não sei ao
certo) e mostrou a sua preocupação pela falta que a receita da venda das
pastinhas faria à sua obra de beneficência. Poderia não haver Queima mas a
instituição e as suas meninas não deveriam sair prejudicadas. E a excepção foi
aberta. E as "meninas do Dr. Elísio de Moura" saíram à rua na segunda
feira que deveria ter sido o dia do quintanista. Nos seus uniformes
domingueiros - saia azul de pregas, blusa cor-de-rosa, soquete branco e
sapatinho preto – foram levadas pelas mãos dos quintanistas, percorreram a
cidade, venderam as pastinhas, almoçaram e lancharam nos restaurantes e
pastelarias… e só não terminaram o dia ao som da música porque nesse fim de dia
já não houve baile! E os quintanistas que as foram buscar de manhã e as levaram
de volta ao orfanato tinham a batina fechada e a capa pelos ombros, em sinal de
luto, e as fitas iam recolhidas dentro das suas pastas.
Hoje, a Venda da Pasta e a Verbena, ainda que fazendo parte
do programa, estão esquecidas. Só consegui saber no que consistem através de um
interessante trabalho de mestrado de uma ex-aluna da U.C. [ 6 ], onde se
explica que «a Verbena consiste num
lanche organizado pela Queima das Fitas destinado inicialmente às crianças da
Casa da Infância Doutor Elysio de Moura que participam na Venda da Pasta»;
mais se refere que «actualmente, é aberta
a todas as crianças das casas de solidariedade social de Coimbra» e que, «para além do lanche, é oferecido, às
crianças, um pequeno espectáculo».
Aparentemente, evoluímos no bom sentido, estendendo o lanche
e o espectáculo – que agora são no Parque Verde – a uma comunidade mais vasta
de crianças e adolescentes. Mas o que se ganhou em quantidade parece ter-se
perdido em humanidade, em carinho, em proximidade entre os estudantes e as
crianças ou os jovens daquelas casas. É que o número de estudantes que se apresentam
para acompanhar as crianças na Venda da Pasta tem vindo a decrescer todos os
anos e de tal sorte que, em 2013, apenas 20 (vinte) se voluntariaram para tal, numa
universidade que nesse ano andou pelos 22.000 alunos e onde, seguramente, mais
de 1.000 serão quintanistas, ou melhor, bolognezes ou marquezes, segundo as denominações
do actual Código da Praxe.
Diz o Diário de Coimbra [ 7 ] que não só a Casa da Infância
como também a Comissão da Queima das Fitas ficaram surpreendidas com a baixa
adesão em 2013. De facto, é caso para pensar e tirar daí algumas conclusões.
Serão os estudantes de hoje menos solidários e menos
generosos que os de ontem? Será falta de informação ou de mediatização? Será que
a atenção se dispersa no meio de tanta festa, tanta algazarra, tanta
publicidade? Será que o evento é hoje um fardo de baixo retorno e se mantém no programa
da Queima por pura inércia, apenas porque veio no pacote que em 1980 foi herdado
das gerações anteriores?
Ou será que os estudantes de hoje são igualmente solidários
e generosos e que é tempo de estender a Venda da Pasta às outras instituições que
já são chamadas a participar na Verbena, de acreditar no potencial de
mobilização que uma tal acção teria junto da comunidade universitária, e de relançar
– à dimensão da Queima de hoje – a iniciativa que “Pantaleão” e os seus pares lançaram
há 82 anos atrás?
Fica a sugestão.
Zé Veloso
Nota: As pastinhas da foto são de 1966. A foto foi obtida,
com a devida licença, do blogue “O cão
que fuma”, http://www.caoquefuma.com/2011/01/da-serie-vida-que-levei-17-capitulo.html
[ 1 ] Maria José de Figueiredo Carmona da Mota,
“Testemunhos”, 1997, distribuição restrita a familiares e amigos
[ 2 ] “Estudantes vendem hoje pastas a favor da Casa de
Infância Elísio de Moura”, in Diário de Coimbra de 7/5/2013.
[ 3 ] Hoje, claro está, com o cortejo ao domingo, estas e
outras lógicas foram alteradas, a demonstrar os perigos de efectuar mudanças
bruscas num sistema que levou dezenas de anos a sedimentar.
[ 4 ] Eng.º Augusto Carmona da Mota, estudante de Coimbra e
primeiro Mor da Real República dos Ly-S.O.S. (Porto)
[ 5 ] A Verbena, que no meu tempo era no Jardim Botânico mas
teve também lugar no Jardim da Sereia e, caso chovesse, no ginásio do D. João
III, era um baile descontraído, ao final da tarde, que dava pelo nome completo
de “Verbena e Pôr-do-Sol”. Verbena seria o baile e Pôr-do-Sol seria o lanche?
Ou seria o contrário? Ou não se faria distinção alguma? Já não sei ao certo.
[ 6 ] Ana Rita Rigueira Montezuma da Sá Marta, “A Praxe
Académica na Universidade de Coimbra”, Mestrado de Política Cultural
Autárquica, Faculdade de Letras da UC, 2010/2011 (http://www.academia.edu/5176195/Patrimonio_Mundial_-_A_Praxe_Academica_da_Universidade_de_Coimbra#)
[ 7 ] “Venda da Pasta mobilizou (apenas) 20 estudantes”, in
Diário de Coimbra de 8/5/2013.